O "fim da arte" segundo Theodor W. Adorno e Guy Debord Anselm Jappe
Toda a estética de Adorno baseia-se no fato de que, também na arte se encontra a contradição entre o potencial das forças produtivas e seu uso atual. É possível falar de forças produtivas estéticas, dado que também a arte é uma forma de dominação dos objetos, da natureza. Não deixa os objetos como são mas os submete a uma transformação, para a qual se serve de alguns procedimentos e algumas técnicas que foram elaborados e aperfeiçoados pouco a pouco. Isso vale ainda mais para a arte moderna que não se limita a copiar a realidade, mas a reestrutura inteiramente segundo suas próprias regras; basta pensar na pintura cubista ou abstrata, ou na suspensão das leis tradicionais da experiência na literatura moderna.
Na arte, o domínio sobre os objetos não serve para submeter a natureza e, sim, ao contrário, para lhe restituir seus direitos: " A arte realiza uma íntima revisão do domínio da natureza ao dominar as formas que a dominam" (TE, 184). A arte, "antítese social da sociedade" (TE, 18), propõe à sociedade exemplos de um uso possível de seus meios numa relação com a realidade que não seja de dominação nem de violência: "Só pelo fato de existirem, as obras de arte postulam a existência de uma realidade inexistente e, por isso, entram em conflito com sua inexistência real" (TE, 83). Enquanto a produção material se dirige apenas para o crescimento quantitativo, a arte, em sua "irracionalidade", deve representar os fins qualitativos - como a felicidade do indivíduo - que o racionalismo das ciências considera "irracionais" (TE, 64: Paralipomena, p. 430, 489). Com sua "inutilidade" e sua vontade de ser apenas para si e de se subtrair à troca universal, a obra de arte liberta a natureza de sua condição de simples meio ou instrumento: "Não é por seu conteúdo particular, mas somente pelo insubstituível de sua própria existência que a obra de arte deixa em suspenso a realidade empírica enquanto complexo funcional abstrato e universal" (TE, 180). Não se trata, necessariamente, de um processo consciente. Basta que a arte siga suas próprias leis de desenvolvimento - exatamente nisso consistia a radicalização das vanguardas - para que reproduza, em seu interior, o grau de desenvolvimento das forças produtivas extra-estéticas, sem que por isso se ache submetida às restrições derivadas das relações de produção (TE, 71). Uma arte cujas técnicas estejam abaixo do estado de desenvolvimento das forças produtivas artísticas alcançado num dado momento é, portanto, "reacionária", já que não sabe dar conta da complexidade dos problemas atuais. Este é um dos motivos pelos quais Adorno condena o jazz, porém se aplica igualmente, por exemplo, ao "realismo socialista". A arte formalista, em contrapartida, expressa, além de qualquer conteúdo "político", a evolução da sociedade e de suas contradições. " A campanha contra o formalismo ignora que a forma que se dá ao conteúdo é, ela mesma, um conteúdo sedimentado" (TE, 193). "No 'como' do modo de pintar podem sedimentar-se algumas experiências incomparavelmente mais profundas e também mais relevantes socialmente do que nos fiéis retratos de generais e heróis revolucionários" (TE, 200).
Também Debord utiliza o conceito de "forças produtivas estéticas", baseando-se no paralelismo com as forças produtivas extra-estéticas da defesa da evolução formalista da arte até 1930, cujo resultado histórico foi a "superação" da arte. Do mesmo modo que Adorno, vê na arte uma representação das potencialidades da sociedade: "O que se chama cultura reflete, mas também prefigura, numa sociedade dada, as possibilidades de organização da vida"(19). E, como Adorno, Debord afirma que há um vínculo entre a libertação dessas potencialidades na arte e na sociedade: "Estamos encerrados em algumas relações de produção que contradizem o desenvolvimento necessário das forças produtivas também na esfera da cultura. Devemos combater essas relações tradicionais"(20). No campo das forças produtivas estéticas, produziu-se, de fato, um desenvolvimento rápido e inexorável em que cada descoberta, uma vez realizada, torna inútil sua repetição. Em Potlatch, o boletim do grupo de Debord, afirma-se, por volta de 1955, que a pintura abstrata depois de Malévitch só rompeu portas que já estavam abertas (p. 187), que o cinema esgotou todas as suas possibilidades de inovação (p. 124) e que a poesia onomatopéica, por um lado, e a neoclássica, por outro, indicavam o fim da própria poesia (p. 182). Essa "evolução vertiginosamente acelerada agora gira no vazio" (p. 155), isto é, o desenvolvimento das forças produtivas estéticas chegou à sua conclusão porque o desdobramento paralelo das forças produtivas extra-estéticas transpôs um patamar decisivo, criando a possibilidade de uma sociedade já não inteiramente dedicada ao trabalho produtivo, uma sociedade que teria tempo e meios para "brincar" e entregar-se às "paixões". A arte, enquanto simples representação de tal uso possível dos meios, a arte enquanto sucedânea das paixões, estaria, portanto, superada. Assim como o progresso das ciências tornou a religião supérflua, a arte demonstra ser, em seu progresso posterior, uma forma limitada da existência humana (21).
Debord não mostra muita desconfiança em face do desenvolvimento das forças produtivas enquanto tal: para ele, o que é decisivo não é o conteúdo das novas técnicas mas, sim, quem as utiliza e como. Identifica a dominação da natureza à liberdade (22), dado que permite ampliar a atividade do sujeito: sua crítica dirige-se contra o atraso das supra-estruturas, da moral à arte, em relação àquele desenvolvimento, considerando anacrônica não só a arte tradicional mas a própria arte como forma de organização dos desejos humanos. A função que a arte teve no passado e que já não pode mais desempenhar consiste, pois, em contribuir para a adaptação da vida ao estado das forças produtivas.
Em Adorno, essas considerações complicam-se devido ao duplo aspecto que atribui às forças produtivas. Sua crítica não se limita à subordinação das forças produtivas às relações de produção, como a crítica marxista tradicional, nem à autonomização da produção material enquanto esfera separada, a economia, que é o tema central de Debord. Para Adorno, toda produção material, ao ser dominação da natureza, é uma forma particular da dominação em geral, e como tal não pode ser portadora de liberdade. A dominação da natureza sempre foi uma libertação do ser humano de sua dependência da natureza, ao mesmo tempo em que introduzia novas formas de dependência. Adorno destaca às vezes um, às vezes outro desses dois aspectos.
Em Dialética do iluminismo, os procedimentos quantitativos da ciência e da técnica enquanto tais são vistos como reificação, ao passo que, em 1966, escreve - aludindo talvez ao heideggeriano "pensar a técnica", então em moda - que a tendência ao totalitarismo "não pode ser atribuída à técnica enquanto tal, que não é mais do que uma forma de força produtiva humana, um braço prolongado, inclusive nas máquinas cibernéticas, e, portanto, um simples momento da dialética de forças produtivas e relações de produção: não é uma terceira entidade dotada de uma independência demoníaca (23). No mesmo ano escreve: "A reificação e a consciência reificada produziram também, com o nascimento das ciências da natureza, a possibilidade de um mundo sem privação" (DN, 193). Quanto ao que diz respeito a este século, segundo Adorno, não se pode falar de oposição entre forças produtivas e relações de produção: sendo substancialmente homogêneas enquanto formas de dominação, ambas acabaram fundindo-se num só "bloco". A estatização da economia e a "integração" do proletariado foram etapas decisivas de tal processo. Nessa situação - voltando à problemática estética - a arte não deve limitar-se a seguir as forças produtivas mas, também, criticar seus aspectos "alienantes".(Grifo nosso)
Se, para Adorno, a arte continua sendo capaz de opor resistência à "alienação", enquanto que, segundo Debord, perdeu tal capacidade, isso se deve, em grande parte, ao fato de que Debord entende por "alienação" o alheamento da subjetividade. Para Adorno, em contrapartida, a própria subjetividade pode converter-se facilmente em alienação e, em suas últimas obras, mostra-se céptico diante do conceito de "alienação".
O conceito de "alienação", como Debord o entende, registra uma forte influência da noção de "reificação" desenvolvida por G. Lukács em História e Consciência de Classe. Para Lukács, a reificação é a forma fenomênica do fetichismo da mercadoria que atribui à mercadoria, enquanto coisa sensível e trivial, as propriedades das relações humanas que presidiram sua produção. A extensão da mercadoria e de seu fetichismo à totalidade da vida social faz surgir a atividade humana que, na verdade, é processo e fluir, como um conjunto de coisas que, independentes de todo poder humano, seguem apenas suas próprias leis. Não há nenhum problema moderno que não remeta, em última instância, ao "enigma da estrutura da mercadoria. Da fragmentaçao dos processos produtivos, que parecem desenvolver-se independentemente dos trabalhadores, à estrutura fundamental do pensamento burguês, com sua oposição entre sujeito e objeto, tudo leva os seres humanos a contemplarem passivamente a realidade em forma de "coisas", "fatos" e "leis". Quarenta anos antes de Debord, Lukács caracterizou essa condição do ser humano como a do "espectador" (25). Como se sabe, Lukács acabou distanciando-se dessas teorias, considerando que repetiam o erro hegeliano de conceber toda objetualidade como alienação. Debord não ignora o problema: repetidas vezes, distingue entre objetivação e alienação, por exemplo quando opõe o tempo, que é "a alienação necessária, como apontava Hegel, o meio em que o sujeito se realiza em se perdendo", à "alienação dominante", que denomina "espacial" e que "separa pela raiz o sujeito da atividade que o subtrai" (Sde, § 161). Mesmo assim, em alguns aspectos de sua crítica do espetáculo, parece ressuscitar a exigência do sujeito-objeto, idêntico em forma, da "vida" interpretada como fluir diante do espetáculo como "estado coagulado" (Sde, § 35) e "congelamento visível da vida" (Sde, § 170).
Portanto, não surpreende que sua crítica da mercadoria se transforme, às vezes, em crítica das "coisas" que dominam os seres humanos. Nem Debord nem o Lukács de História e consciência de classe duvidam de que possa existir uma subjetividade "sã", não-reificada, a qual situam no proletariado e cuja definição oscila entre categorias sociológicas e filosóficas. Por mais que a ideologia burguesa ou o espetáculo ameacem do exterior essa subjetividade, esta é, em princípio, capaz de resistir a seus ataques (26). Para Adorno, ao contrário, o que aliena o sujeito de seu mundo é justamente o "subjetivismo", a propensão do sujeito a "devorar" o objeto (DN, 31). Sujeito e objeto não formam uma dualidade última e insuperável nem podem ser reduzidos a uma unidade como o "ser", mas constituem-se reciprocamente (DN, 176). As mediações objetivas do sujeito são, contudo, mais importantes que as mediações subjetivas do objeto (27), já que o sujeito continua sendo sempre uma forma de ser do objeto; ou, em termos mais concretos: a natureza pode existir sem o homem, mas o homem não pode existir sem a natureza. O sujeito-objeto de Lukács é, para Adorno, um caso extremo de "filosofia da identidade", cujas categorias são meios com os quais o sujeito trata de se apoderar do mundo. O objeto é identificado através das categorias estabelecias pelo objeto e, assim, a identidade do objeto, sua qualidade de "individuum ineffabile", se perde e o objeto fica reduzido à identidade com o sujeito. O "pensamento identificante" conhece uma coisa determinando-a como exemplar de uma espécie; porém, desse modo, não encontra na coisa senão o que o próprio pensamento nela introduziu, e nunca pode conhecer a verdadeira identidade do objeto. À "boa" objetividade que devolve aos objetos sua autonomia opõe-se a objetividade efetivamente "reificadora " que transforma o ser humano em coisa e o produto do trabalho em mercadoria-fetiche. A identidade posta pelo sujeito é que priva o homem moderno de sua "identidade": "O princípio de identidade absoluta é contraditório em si. Perpetua a não-identidade como oprimida e prejudicada" (DN, 316). Num mundo em que todo objeto é igual ao sujeito, o sujeito torna-se um mero objeto, uma coisa entre as coisas. A negação da identidade dos objetos em benefício da identidade do sujeito que, em todas as partes, pretende encontrar-se a si mesmo é relacionada por Adorno, ainda que de modo um tanto vago, com o princípio de equivalência, o trabalho abstrato e o valor de troca. A reificação realmente existente é resultado da aversão ao objeto em geral, assim como a alienação decorre da repressão ao diferente e ao estranho: "Se o diferente deixasse de ser proscrito, haveria apenas alienação" (DN, 173 ou 175), enquanto que o sujeito atual "sente-se ameaçado, de modo absoluto, pelo menor resíduo de/do não-idêntico [...] porque sua aspiração é o todo" (DN, 185). Não existiu, no passado, a unidade entre sujeito e objeto - o ser humano não se afastou de sua "essência" ou de um em-si (DN, 190-193) -, nem se trata de aspirar ao objetivo de uma "unidade indiferenciada de sujeito e objeto" mas, sim, a uma "comunicação do diferenciado" (28). Não se deve esquecer, contudo, que tais observações se referem a filosofias como o existencialismo. Dificilmente poderiam ser aplicadas aos situacionistas que criticam o espetáculo justamente porque nega aos sujeitos a possibilidade de se perderem no fluir dos acontecimentos: " A alienação social superável é precisamente aquela que proibiu e petrificou as possibilidades e os riscos da alienação viva no tempo" (Sde, § 161). Agora se compreende melhor porque Adorno defende a arte: considera-a capaz de contribuir para a superação do sujeito dominador. Somente na arte pode caber uma "reconciliação" entre sujeito e objeto. Na arte, o sujeito é a força produtiva principal (TE, 62. 253); e apenas na arte - por exemplo, na música romântica - o sujeito pode desenvolver-se livremente e dominar seu material sem violentá-lo, o que significa sempre, em última instância, violentar-se a si mesmo. Assim, a arte é o "lugar-tenente" da "verdadeira vida"(29), de uma vida libertada "do fatigar-se, do fazer projetos, do impor sua vontade, do subjugar", na qual o "não fazer nada, como um animal, flutuar na água e olhar pacificamente o céu [...] poderiam substituir o processo, o fazer, o realizar" (30). A verdadeira práxis da arte está nessa não-práxis, nessa recusa dos usos instrumentais e da tão louvada" "comunicação", na qual Adorno vê a simples confirmação recíproca dos sujeitos empíricos em seu ser-assim. O verdadeiro sujeito da arte não deve ser o artista nem o receptor, mas a própria arte e aquilo que fala através dela: " A comunicação é a adaptação do espírito ao útil, mediante a qual se soma às mercadorias" (TE, 102). Rimbaud, o protótipo das vanguardas, foi para Adorno "o primeiro artista exímio que recusava a comunicação" (Paralipomena, p. 469). "A arte já não chega aos seres humanos senão através do choque que atinge o que a ideologia pseudocientífica chama de comunicação; por sua vez, a arte conserva sua integridade apenas onde não se presta ao jogo da comunicação" (Paralipomena, p. 476). Para Debord, em contrapartida, a arte tinha a missão de intensificar a atividade do sujeito e de servir como meio para sua comunicação. Tal comunicação existia em condições como as da democracia grega, condições cuja dissolução levou à "atual perda geral das condições de comunicação" (Sde, § 189). A evolução da arte moderna refletia essa dissolução. O espetáculo é definido como "representação independente" (Sde, § 18) e como "comunicação do incomunicável" (Sde, § 192). Em 1963, a revista lnternationale Situationniste afirma, peremptoriamente, que "onde há comunicação não há Estado" (IS, s/30), e Debord escreveu, já em 1958, que "é preciso submeter a uma destruição radical todas as formas de pseudo- comunicação para poder chegar um dia a uma comunicação real e direta" (IS, 1/21), tarefa que não cabe à arte mas a uma revolução que englobe os conteúdos da arte. Vale a pena recordar que Adorno e Debord não divergem tanto no que consideram de per se desejável como no que consideram efetivamente possível nesse momento histórico. Ambos coincidem ao criticar o fato de que a racionalidade da sociedade tenha sido relegada à esfera separada da cultura. Adorno fala da "culpa em que (a cultura) incorre ao isolar-se como esfera particular do espírito sem se realizar na organização da sociedade" (31). Também Adorno admite, em termos muito gerais, que "numa humanidade pacificada, a arte deixaria de existir" (32) e que "não é impensável que a humanidade não necessitasse já da cultura imanente e fechada em si uma vez que estivesse realizada" (Paralipomena, p. 474). Porém, trata-se apenas de uma possibilidade remota; e ainda que reconheça que a arte não é mais do que a representação de algo que falta (TE, 10), Adorno insiste no fato de que, atualmente, tal carência não tem remédio: é preciso limitar-se, portanto, a pô-la em evidência. "Quem quer abolir a arte sustenta a ilusão de que não está fechada a porta para uma mudança decisiva" (TE, 328). E o que vale para a arte vale também para a filosofia: "A filosofia, que outrora pareceu superada, continua viva porque deixou passar o momento de sua realização" (DN, 11). Nem sequer a revolução lhe parece de per se impossível, mas unicamente privada de atualidade nas condições presentes: "O proletariado a que ele (Marx) se dirigia ainda não estava integrado: empobrecia-se de modo evidente, enquanto, por outro lado, o poder social ainda não dispunha dos meios que lhe assegurassem, na hora da verdade, uma vitória esmagadora" (33). Contudo, por volta de 1920, cabia certa esperança na revolução; Adorno refere-se à "violência que há cinqüenta anos durante um breve período ainda podia parecer justificada para os que abrigavam a esperança ilusória e demasiado abstrata de uma transformação total" (34). Adorno não pensa que a arte seja algo tão "elevado" a ponto de se propor como objetivo a felicidade do indivíduo; como Debord, vê na arte uma "promessa de felicidade" (35), porém, ao contrário dele, não acredita que tal promessa possa realizar-se diretamente mas que só é possível ser-lhe fiel rompendo-a para não traí-la (Paralipomena, p. 461). Enquanto se trata da arte do período de 1850 a 1930, Debord partilha das afirmações de Adorno sobre o valor da pura negatividade; em contrapartida, no período atual, considera possível passar à positividade, pois, ainda que não se tenha produzido uma melhora efetiva da situação social, estão dadas as condições para isso. Adorno, ao contrário, parte da impossibilidade atual de semelhante reconciliação e da necessidade de se contentar com sua evocação nas grandes obras de arte. Estamos, pois, diante de duas interpretações opostas das possibilidades e dos limites da modernidade. Em 1963, o editorial do número 8 de lnternationale Situationniste refere-se, com otimismo, aos "novos movimentos de protesto"; no mesmo ano, Adorno fala de "um momento histórico em que a práxis parece inviável em todas as partes" (36). Os situacionistas só podiam acreditar na possibilidade de uma "superação da arte" porque anos antes de maio de 1968 já esperavam uma revolução dessa natureza. Essas divergências são devidas não só a uma avaliação distinta dos acontecimentos dos anos 50 e 60, mas remetem a diferenças mais profundas na concepção do processo histórico. Os respectivos conceitos de troca e de alienação determinam o ritmo que os dois autores atribuem às mudanças históricas. Para Debord, como para Lukács, a alienação reside no predomínio da mercadoria na vida social; acha-se vinculada, portanto, ao capitalismo industrial e suas origens não remontam muito além dos últimos duzentos anos (37). No interior desse período, as eventuais mudanças de uma década para outra têm, naturalmente, uma importância considerável. As mudanças de um século, inversamente, têm pouco peso aos olhos de Adorno que mede os acontecimentos com a vara da "prioridade do objeto" e da "identidade". Para ele, "troca" não significa, em primeiro lugar, a troca de mercadorias que contêm trabalho abstrato - origem do predomínio, em âmbito social, do valor de troca sobre o valor de uso - mas uma supra-histórica "troca em geral" que coincide com toda a ratio ocidental e cujo precedente é o sacrifício com o qual o homem tratava de congratular-se com os deuses mediante oferendas que logo se tornaram puramente simbólicas: esse elemento de engano no sacrifício prenuncia o engano da troca. A troca, segundo Adorno, é "injusta" porque suprime a qualidade e a individualidade, e isso muito antes de adquirir a forma de apropriação de mais-trabalho na troca desigual entre força de trabalho e salário. A troca e a ratio ocidental coincidem na redução da multiplicidade do mundo a meras quantidades distintas de uma substância indiferenciada, seja o espírito, o trabalho abstrato, os números da matemática ou a matéria sem qualidades da ciência. Com freqüência, se tem a impressão de que, em Adorno, os traços específicos das épocas históricas desaparecem diante da ação de certos princípios invariáveis, como a dominação e a troca que existem desde o começo da história. A Dialética do iluminismo situa a origem dos conceitos identificadores num passado bastante remoto. Se "os ritos do xamã se dirigiam ao vento, à chuva, à serpente exterior ou ao demônio no inferno, e não a matérias ou espécimes" (DI, 22), a divisão entre a coisa e seu conceito se introduz já no período animista com a distinção entre a árvore em sua presença física e o espírito que a habita (DI, 29). A lógica nasce das primeiras relações de subordinação hierárquica (DI, 36), e com o "eu" idêntico através do tempo principia a identificação das coisas mediante sua classificação em espécies. "Unidade é a palavra de ordem, de Parmênides a Russell. Continua-se exigindo a destruição dos deuses e das qualidades" (DI, 20): e isto significa que hoje continua atuando a mesma "ilustração" dos tempos dos pré-socráticos. Deveria parecer a Adorno pouco menos que impossível libertar-se da reificação, se esta se enraíza nas estruturas mais profundas da sociedade e, contudo, se nega a tomá-la como uma constante antropológica ou ontológica: "Só à custa de faltar com a verdade é que se pode relegar a reificação ao ser e à história do ser, para lamentar e consagrar como destino aquilo que a auto-reflexão e a práxis por ela desencadeada puderam, eventualmente, mudar" (DN, 95). O muro que separa o sujeito do objeto não é um muro ontológico, mas produto da história e pode ser superado no plano histórico: "Se nenhum ser humano fosse privado de uma parte de seu trabalho vivo, ter-se-ia alcançado a identidade racional e a sociedade deixaria para trás o pensamento identificador" (DN, 150). Porém, apesar de tais afirmações, fica pouco claro como é possível libertar-se da reificação se esta, segundo Adorno, se acha inclusive nas estruturas da linguagem: na cópula "é" já se oculta o princípio de identidade sob a forma de identificação de uma coisa mediante sua identificação com outra coisa que aquela não é (DN, 104-108, 151). Na proposição predicativa, o objeto em questão é determinado mediante a redução a "simples exemplo de sua espécie ou gênero" (DN, 149). Se o "eu idêntico" já contém a sociedade de classes (38), se o pensamento em geral é "cúmplice" da ideologia (DN, 151), achar uma "saída" parece, então, tarefa bastante trabalhosa. Consequentemente, Adorno situa fora da história concreta o que cabe esperar para o futuro: um "estado de reconciliação" que ele próprio compara ao "estado de salvação" religioso (TE, 16).
Às vezes, Adorno parece insinuar que a revolução e a realização da filosofia foram, efetivamente, possíveis por volta de 1848; depois, a fusão de forças produtivas e relações de produção privou o desenvolvimento das forças produtivas de todo potencial de progresso e impossibilitou toda perspectiva revolucionária a ponto de desencadear uma espécie de antropogênese regressiva. Desde então, só houve progresso na arte: "O fato da arte, segundo Hegel, ter sido alguma vez o grau adequado do desenvolvimento do espírito e já não ser mais (e isto é o que pensa também Debord), manifesta uma confiança no real progresso da consciência da liberdade que se viu amargamente decepcionada. Se o teorema de Hegel sobre a arte como consciência da miséria é válido, então tampouco está antiquado" (TE, 274). A recaída na barbárie e a vitória definitiva do totalitarismo são, para Adorno, perigos sempre presentes; a função positiva da arte consiste em representar pelo menos a possibilidade de um mundo diferente, de um livre desenvolvimento das forças produtivas. A arte aparece, pois, como o mal menor: "hoje, a possibilidade abortada do outro se reduziu à de impedir, apesar de tudo, a catástrofe" (DN, 321).
Adorno constata uma certa invariabilidade das vanguardas: para ele, Beckett tem mais ou menos a mesma função de Baudelaire; isto se deve à persistência inalterada da situação descrita, ou seja, da modernidade. Adorno concebe a arte moderna não só como uma etapa histórica, mas também como uma espécie de categoria do espírito: coisa que ele próprio admite quando declara que a arte moderna tende a representar a indústria somente mediante sua colocação entre parêntesis, e que, "neste aspecto do moderno, houve tão poucas mudanças quanto no fato da industrialização enquanto decisiva para o processo de vida dos seres humanos; e, até agora, é isto que dá espantosa invariabilidade ao conceito estético do moderno" (TE, 53). Como conseqüência dessa "espantosa invariabilidade", "a arte moderna aparece historicamente como algo qualitativo, como diferença em relação aos modelos caducos; por isso não é puramente temporal: o que ajuda, ademais, a explicar que, por um lado, tenha adquirido traços invariáveis que, amiúde, lhe são criticados e que, por outro, não se possa liquidá-la como algo superado" (Paralipomena, p. 404).

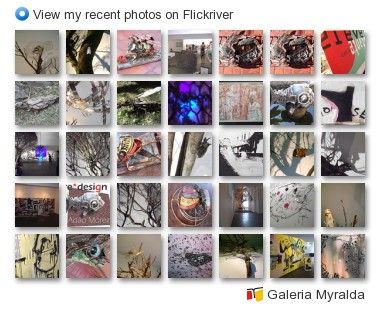



























Nenhum comentário:
Postar um comentário